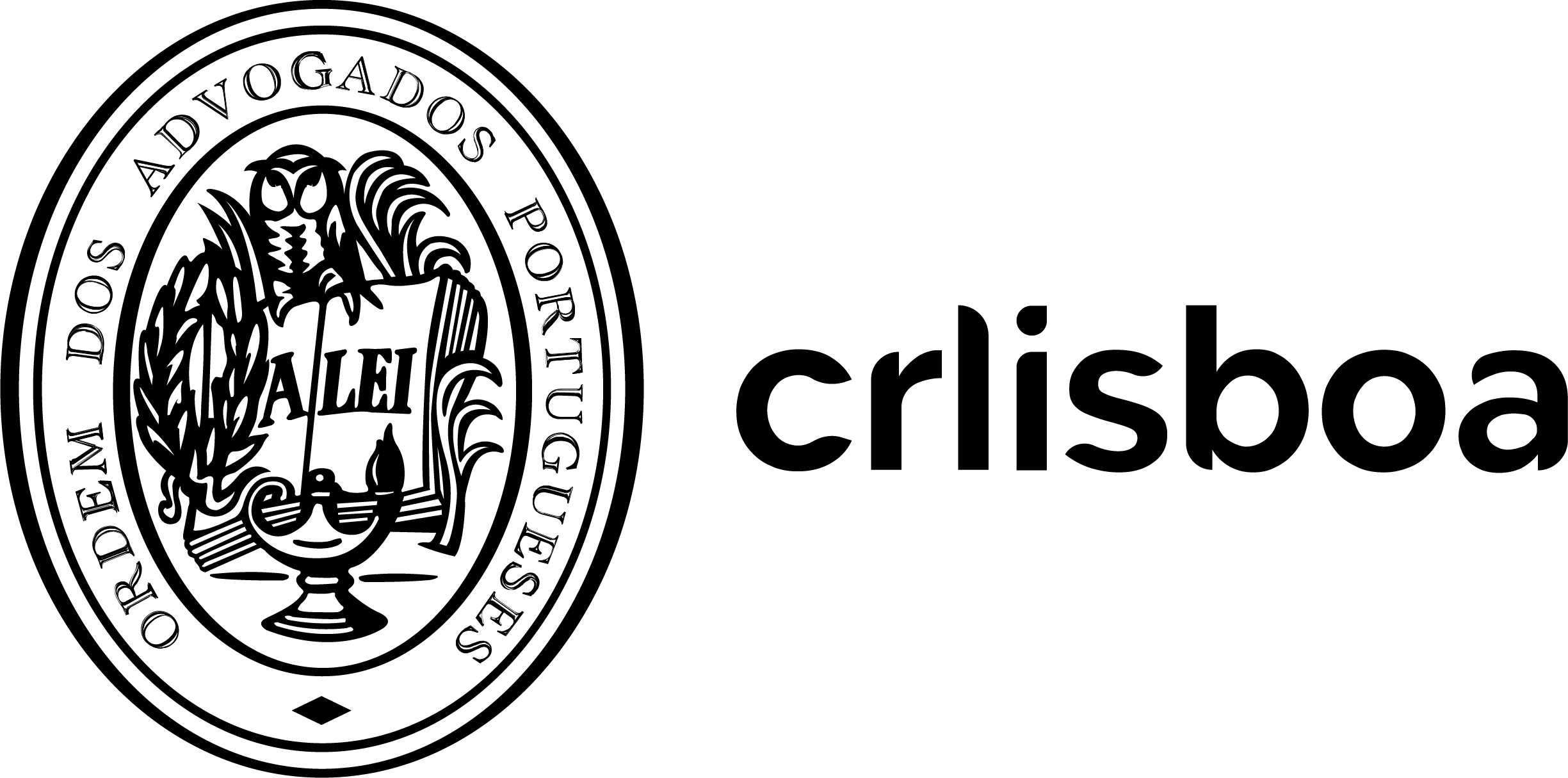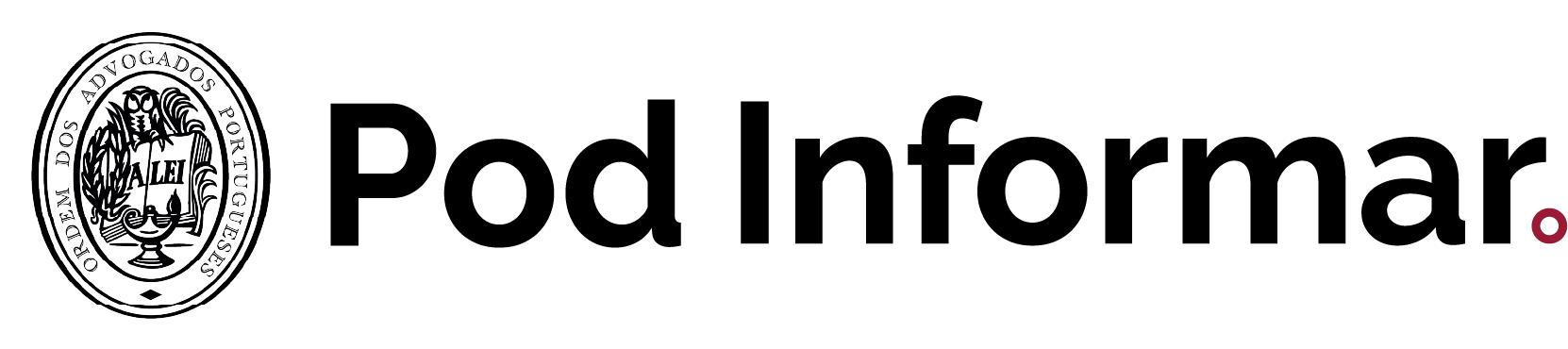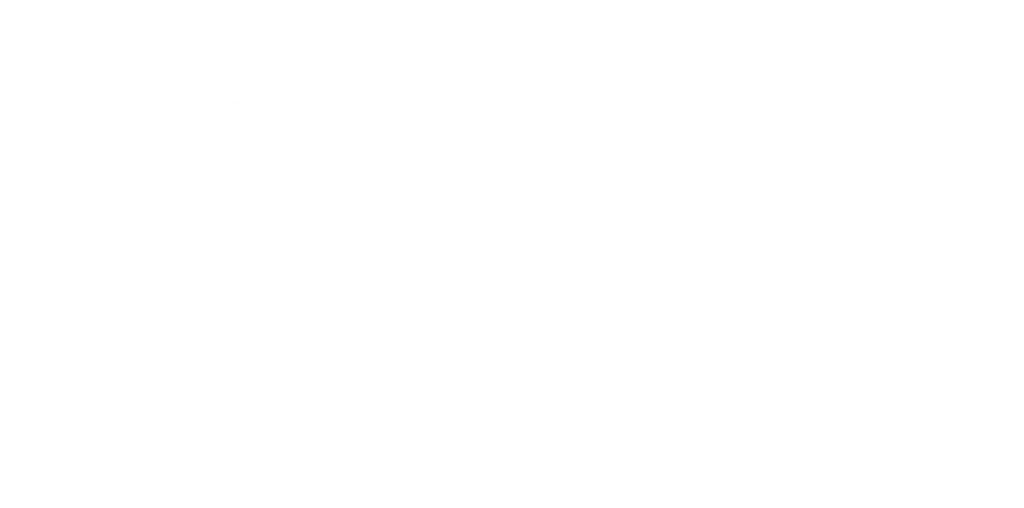Doutoranda em Direito da Nova School of Law da Universidade Nova de Lisboa e Investigadora Associada da Cátedra do UNCRC Policy Center
As situações que podem levar as crianças a contactar o sistema de justiça são várias, por exemplo, no âmbito das várias situações de perigo[1] (e.g., abuso físico, psicológicos e/ou sexuais; negligência); em circunstâncias de regulação do exercício das responsabilidades parentais em resultado de divórcio ou separação dos pais; e em situações de delinquência juvenil (American Academy of Pediatrics, 1999; Weisz et al., 2007). A criança pode ser exposta ao sistema de justiça em diversos tipos de processo, seja a nível criminal, de promoção e proteção, tutelar educativo, podendo ser ouvida por diversos profissionais com diferentes níveis de preparação para recolher informação com relevância legal (Trindade e Sani, 2014) e de preocupação de não originar uma vitimação secundária (Bitencourt, 2009). Assim, sendo uma evidência a presença da criança no sistema de justiça, torna-se fundamental perceber se, nesta área, o seu direito à participação, principalmente nas situações que lhe dizem respeito, é ou não respeitado.
Em Portugal, o direito de participação e audição da criança nos processos judiciais que lhe dizem respeito está devidamente consagrado na legislação nacional, designadamente, no âmbito dos processos promoção e proteção e tutelares cíveis, consubstanciado no Regime Geral do Processo Tutelar Cível (RGPTC) e na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), onde se reconhece à criança o direito a ser ouvida, a expressar livremente a sua vontade e as suas opiniões ser tidas em consideração, não estando sujeito a um limite de idade rígido, garantindo-se antes a audição de toda e qualquer criança sobre as decisões que lhe digam respeito, atenta a sua capacidade de compreensão dos assuntos em questão, cabendo ao juiz decidir ouvir ou não. Contudo, e apesar das importantes alterações legislativas que resultaram deste reconhecimento e reforço do papel da criança como sujeito de direitos, a verdadeira efetivação do direito de participação e audição ainda não foi totalmente interiorizada pelos operadores judiciários e garantida na prática judiciária, em Portugal, seja porque os critérios de decisão de cada magistrado levam a que a criança não seja simplesmente ouvida, seja porque não estão criadas as condições adequadas para proceder à sua audição.
Alguns estudos têm analisado o lugar da criança no contexto judicial na perspetiva dos magistrados (Melo e Sani, 2015), avaliando as capacidades da criança para testemunhar (Klemfuss e Ceci, 2012; Saywitz, 2002), assim como as consequências da sua participação nos tribunais criminais (Quas et al., 2009). Há cada vez mais interesse em estudar o envolvimento da criança no contexto jurídico (Myers, 2005; Quas et al., 2009; Cooper et al., 2010). No entanto, é importante centrar o foco na criança, como «sujeito de Direitos» e analisar o grau de influência e impacto que a participação e audição da criança tem nas decisões judiciais tomadas pelos magistrados judiciais.
O estudo de investigação “O Direito de Participação e Audição das Crianças nos Processos Judiciais”, realizado em dois Juízos de Família e Menores (Coimbra e Sintra) em relação aos processos de promoção e proteção (fase judicial) e tutelar cível, com enfoque nos processos de regulação, alteração e incumprimento do exercício das responsabilidades parentais relativo ao ano judicial 2019/2020 revelou que apesar de termos vindo a assistir a importantes alterações legislativas que reforçam o papel e a intervenção da criança na prática judiciária e de uma maior consciência e interiorização por parte dos agentes judiciários, em particular dos magistrados, a sua audição continua a não estar efetivamente garantida, considerando que a abordagem, os procedimentos, a forma como os magistrados reconhecem ou não a criança enquanto sujeito de direitos, decidem ou não ouvi-la, não se encontra ainda balizado, pois varia de juízo para juízo, de magistrado para magistrado, consoante a sua formação, sensibilidade e disponibilidade para solicitar apoio de profissionais competentes para o efeito. Acresce que do estudo não ficou claro a forma como as crianças são acolhidas, informadas e apoiadas quando participam nos processos judiciais.
Os resultados confirmam uma evolução positiva. Num total de 93 crianças envolvidas nos 69 processos judiciais analisados, 76 crianças exerceram o seu direito de participação e audição, ou seja 81,7% das crianças. Na generalidade dos processos, as informações trazidas pelas crianças ao seu processo judicial foram valoradas pelo magistrado na decisão judicial. Os processos de Promoção e Proteção e Alteração das Responsabilidades Parentais são aqueles onde o contributo da criança é mais valorado. Esta circunstância está diretamente relacionada com a natureza dos processos em causa.
O estudo revelou que há determinados aspetos que podem ser melhorados dado que não se encontram plenamente salvaguardados na legislação e deverão merecer melhor atenção do legislador, por exemplo, o reforço do direito à informação da criança sobre o significado e alcance da audição, assegurando que aquela tem conhecimento posterior do resultado e consequências da mesma (artigo 5.º do RGPTC).
À semelhança do que vem acontecendo noutros países (FRA, 2017), o estudo propõe que as decisões judiciais sejam «mais amigas da criança» com a preocupação de adequar a linguagem jurídica e técnica à idade e ao nível de compreensão da criança. Sabe-se que a obrigação de fornecer informação às crianças envolvidas em processos cíveis é ainda menos evidente quando comparado com os processos tutelar educativo e penal. Na maioria dos casos, as crianças são informadas pelos seus pais e/ou representantes legais da decisão judicial (artigo 4, n.º 1, alínea c e n.º 2 do RGPTC).
A par disso, o reforço da formação dos operadores judiciários em matéria de direitos da criança é outra das recomendações apontadas, tendo em vista assegurar sempre a presença de um técnico especializado que garanta a correta interpretação das opiniões da criança. Neste sentido, considera-se fundamental que a assessoria técnica ao tribunal seja obrigatória, tanto na audição da criança como na determinação da sua capacidade de compreensão dos assuntos em discussão.
Por sua vez, é incontornável a necessidade de se continuar a investir na melhoria do modus operandi da prática judiciária que permita assegurar as condições para que as crianças sejam sempre ouvidas, reforçar o diálogo com outras áreas científicas, promover formação especifica para os profissionais que trabalham com crianças, garantir a existência de salas adaptadas para audição nos tribunais, garantir o direito à informação da criança durante todo o processo e o seu acompanhamento por pessoa de confiança e assegurar a gravação das audições.
Por fim, a evolução positiva registada em termos legislativo e prática judiciária, reclama que os decisores públicos e políticos ponderem a incorporação de uma «abordagem baseada nos direitos da criança» na cultura judicial, alicerçada nos princípios gerais da «Convenção sobre os Direitos da Criança», de forma a assegurar que os procedimentos judiciais estão plenamente adaptados às crianças e que têm em conta os seus direitos, interesses e especificidades, valorando o seu contributo na tomada de decisão, enquanto sujeito de direitos e na defesa do seu superior interesse.
Bibliografia:
Agência Europeia dos Direitos da Criança (FRA, 2017). Justiça adaptada às crianças: perspetivas e experiências das crianças e dos profissionais.
American Academy of Pediatrics (1999). The child in court: a subject review. Pediatrics, 4 (5), 1145-1148
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Criança. Resolução 44/25, de 20 de novembro de 1989.
Cooper, A., Wallin, A. R., Quas, J., Lyon, T. (2010). Maltreated and nonmaltreated children’s knowledge of the juvenile dependency court system. Child Maltreat, 15(3), 255-260. https://doi.org/10.1177/1077559510364056
Klemfuss, J. Z., Ceci, S. J. (2012). Legal and psychological perspectives on children’s competence to testify in court. Developmental Review, 32, 268-286. https://doi.org/10.1016/j. dr.2012.06.005
Melo, M. F., Sani, A. (2015). A audição da criança na tomada de decisão dos magistrados. Revista Psicologia do Chile, 24(1), 1-19. https://doi.org/10.5354/0719-0581.2015.37067
Myers. J. (2005). Myers on evidence in child, domestic, and elder abuse. New York: Aspen Publishers. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2005.02.002
Quas, J. A., Cooper, A., Wandrey, L. (2009). Child victims in dependency court. Em B. Bottoms, C. J. Najdowski, G. Goodman (Eds). Children as victims, witnesses and offenders: psychological science and the law (pp. 128-149). New York: The Guilford Press
Saywitz, K. (2002). Developmental underpinnings of children’s testemony. Em H. L. Westcott, G. M. Davies, R. Bull (Eds.), Children’s Testimony: A Handbook of Psychological Research and Forensic Practice (pp. 3-21). Chichester: Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470713679.ch1
Severino Soares, Odete, «O direito de participação e audição da criança nos processos judiciais (promoção e proteção e tutelar cível)», Dissertação de Mestrado, NOVA School of Law (2023), editora Silabo. 2024
Trindade, M. L., Sani, A. (2014). Representações de operadores da infância quanto à proteção de crianças vítimas de violência doméstica. Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – RIDB, 3(2), 1587-1601.
Weisz, V., Wingrove, T., Faith-Slaker, A. (2007). Children and procedural justice. Court Review, 44, p. 36-42
Odete Severino Soares, Doutoranda em Direito da Nova School of Law da Universidade Nova de Lisboa e Investigadora Associada da Cátedra do UNCRC Policy Center.
[1] Artigo 3.º n.º 2 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo – aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, e alterada e republicada pela Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro, com as alterações das Leis n. os 23/2017, de 23 de maio, 26/2018, de 5 de julho e 23/2023, de 25 de maio.