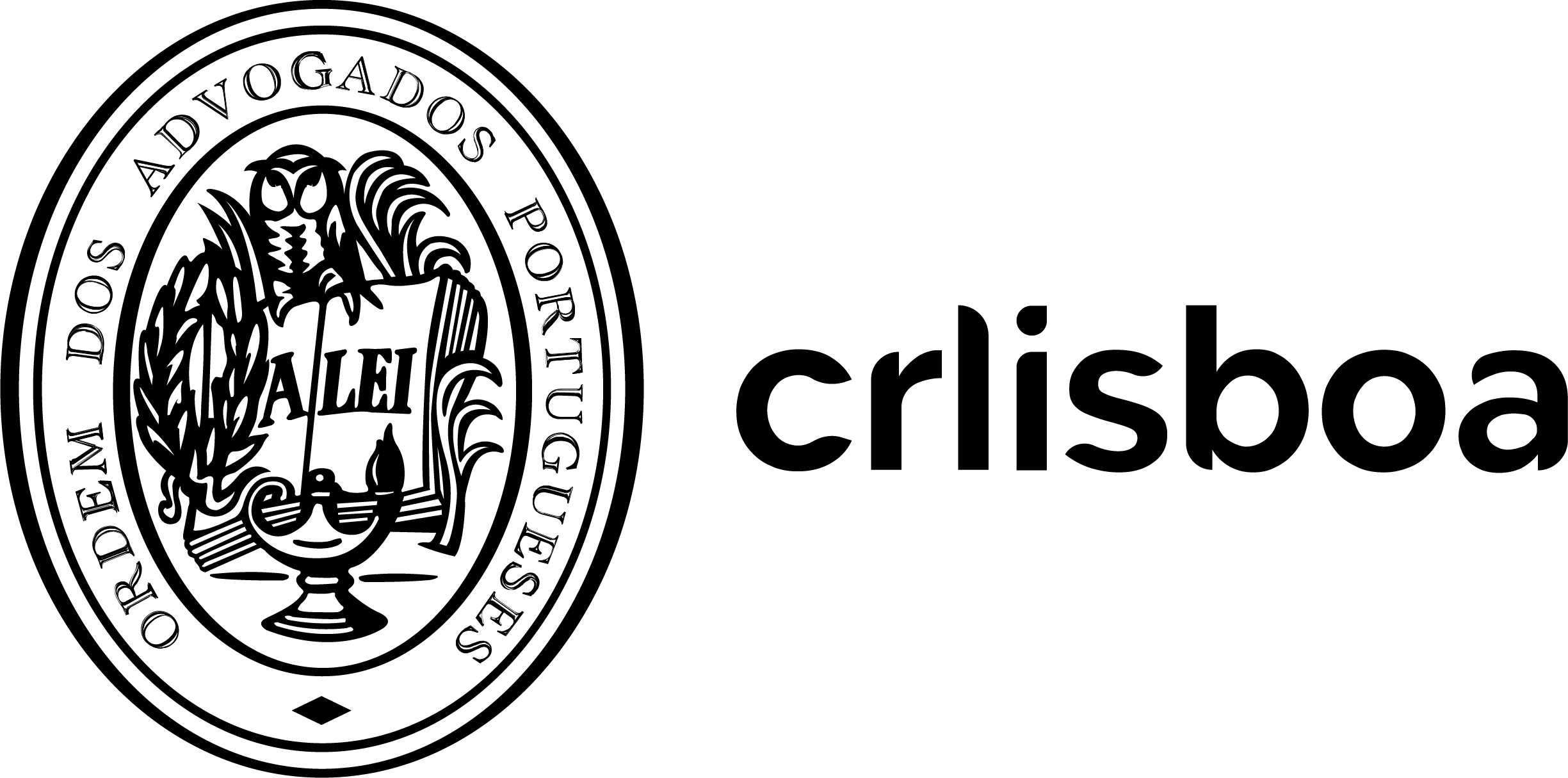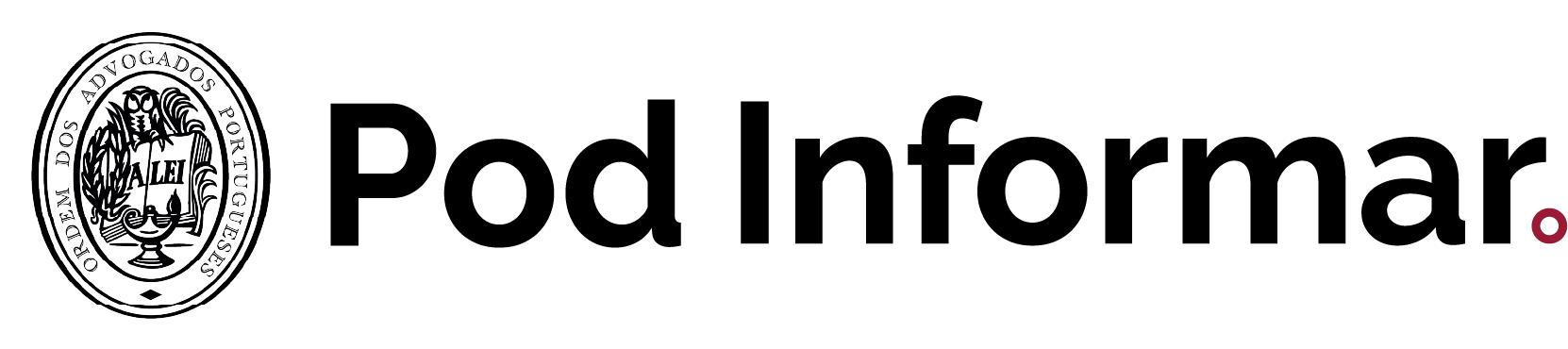“Competência Judiciária e Tutela Coletiva dos Consumidores na União Europeia”
Um desafio que hoje se coloca à doutrina e aos órgãos jurisdicionais nacionais consiste em discernir se, em face de um litígio coletivo transfronteiriço de consumo, poderá ser aplicado outro critério de competência internacional direta que não o do foro do domicílio do demandado, o critério geral previsto no artigo 4.º, n.º 1 do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, de 12 de dezembro (Regulamento Bruxelas I-bis).
A atualidade e pertinência desta questão dilemática decorrem do facto de a Diretiva (UE) 2020/1828 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2020, relativa a ações coletivas para proteção dos interesses coletivos dos consumidores, não regular a competência judiciária internacional direta em presença de um litígio coletivo transfronteiriço de consumo, nem ter espoletado qualquer alteração às regras do Regulamento Bruxelas I-bis – para as quais remete, cf. considerando (21) e artigo 2.º, n.º 3 da Diretiva (UE) 2020/1828 – mas que, manifestamente, não tiveram em vista nem se mostram perfeitamente adequadas à determinação da competência internacional dos tribunais judiciais em situações plurilocalizadas para conhecer e decidir das ações coletivas reguladas pela Diretiva.
Neste sentido, decidimos oferecer o nosso humilde contributo para uma tentativa de resposta à questão dilemática, dando à estampa, sob a chancela da editora Almedina, a obra “Competência Judiciária e Tutela Coletiva dos Consumidores na União Europeia”, lançada no passado dia 11 de março no CIAB – Tribunal de Consumo.

Carlos Filipe Fernandes de Andrade Costa
Doutorando em Direito, Ramo Ciências Jurídico-Processuais, pela FDUC. Árbitro em centros de arbitragem de conflitos de consumo
Não descurando que a aplicação do princípio actor sequitur forum rei, consagrado no referido artigo 4.º, n.º 1 do Regulamento Bruxelas I-bis, é a solução que oferece maior segurança jurídica e previsibilidade, a mesma revela-se, todavia, a menos apelativa ao exercício da ação coletiva pelas “entidades qualificadas” – aquelas que, no modelo harmonizado (de minimis) de ação representativa da Diretiva (UE) 2020/1828, tenham sido designadas por um Estado-Membro como “qualificadas” para intentarem ações coletivas para obtenção de medidas inibitórias, reparatórias ou ambas, em nome dos consumidores –, por comportar, previsivelmente, maiores custos e riscos de litigância, ao arrepio, portanto, do objetivo de maximização do acesso à justiça pelos consumidores – e, por essa via, de aplicação efetiva das normas da União Europeia em matéria de Direito do Consumo stricto sensu e em domínios afins – que presidiu à adoção da referida Diretiva.
É, assim, neste conspecto e cientes de que o sucesso do sistema de tutela coletiva dos direitos e interesses dos consumidores encontra nas regras de competência internacional do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 um elemento essencial e incontornável, que a monografia se propõe perscrutar se, à luz dos princípios e critérios orientadores na aplicação que se extraem do próprio Regulamento Bruxelas I-bis, algum dos regimes de competência especialíssima (Secção 4 do Capítulo II) ou especial (artigo 7.º, n.º 1 e artigo 7.º, n.º 2, por esta ordem) nele previstos, pertinentes em razão da natureza dos litígios a que se dirige a Diretiva (UE) 2020/1828, é suscetível de se aplicar às ações coletivas intentadas com fundamento em infrações cometidas por profissionais às disposições do direito da União referidas no anexo I da Diretiva.
Para tanto, a obra, dividida em três capítulos, começa por descrever e analisar os principais instrumentos de soft law emanados à escala da União Europeia, prévios à Diretiva (UE) 2020/1828, que versaram sobre o problema da inexistência de uma solução adequada para a resolução de situações litigiosas de consumo em contacto com dois ou mais ordenamentos jurídicos nacionais, situações essas que, tendo origem na mesma conduta comissiva ou omissiva ilegal perpetrada por um profissional, assumem um valor reduzido numa perspetiva atomista, porém, revelam-se suscetíveis de gerar danos homogéneos em larga escala (ou danos em massa) com expressivo significado económico em pleno contexto de globalização económica e de digitalização, se encaradas numa visão holística.
Nunca perdendo de vista, no percurso pelos instrumentos de soft law, os princípios orientadores neles propostos (ou não) para a tarefa de determinação do foro internacionalmente competente no caso de litígios coletivos plurilocalizados – o objeto central da monografia –, merece especial destaque e tratamento a Recomendação da Comissão de 11 de junho de 2013, sobre os princípios comuns (e os princípios específicos) que deveriam reger um quadro horizontal norteador dos mecanismos de tutela coletiva inibitórios e indemnizatórios dos Estados-Membros aplicáveis às violações de direitos garantidos pelo Direito da União.
Concluindo-se, em linha com o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu datado de 25.01.2018, que a implementação dos princípios emanados da Recomendação pelos Estados-Membros ficou muito aquém do que era desejado e imperioso para a consolidação de uma abordagem horizontal da tutela coletiva, subsistindo o predomínio de mecanismos nacionais de âmbito sectorial, sobretudo nas áreas do Direito do Consumo e do Direito da Concorrência – quando existentes –, e que, por conseguinte, não havia sido alcançado um estádio de convergência suficiente para tão audacioso empreendimento ser levado avante, constata-se que a União Europeia acabou por se quedar pela promoção de uma integração sectorial, por intermédio de instrumentos vinculativos como a Diretiva (UE) 2020/1828, à qual dedicamos o segundo capítulo da obra.
Nesse capítulo segundo, ensaiamos um périplo por seis grandes conjuntos de disposições normativas enxertados na Diretiva (UE) 2020/1828 (e sua transposição para o direito nacional, através do Decreto-Lei n.º 114-A/2023, de 5 de dezembro, que escrutinamos pari passu, sempre – e infelizmente – com um acentuado pendor crítico), a saber: 1) as categorias de ações coletivas; 2) as entidades com legitimidade para a propositura de ações coletivas, sua designação pelos Estados-Membros e o controlo judicial da “representação adequada” ao longo do processo; 3) as medidas que podem ser requeridas para proteção coletiva dos interesses dos consumidores; 4) o modo de vinculação dos consumidores às ações coletivas para obtenção de tutela reparatória e de tutela inibitória; 5) o financiamento de ações coletivas para medidas de reparação; e 6) os acordos (de transação) alcançados no âmbito de uma ação coletiva para medidas de reparação.
Ora, especificamente a propósito do modo de vinculação dos consumidores às ações coletivas, colocamos em evidência o disposto no considerando (34) da Diretiva 2020/1828, nos termos do qual “[a]o intentar uma ação coletiva, a entidade qualificada deverá fornecer ao tribunal ou à autoridade administrativa informações suficientes sobre os consumidores abrangidos pela ação coletiva. Essas informações deverão permitir ao tribunal ou à autoridade administrativa determinarem se são competentes e qual o direito aplicável. Em caso de responsabilidade civil, tal obrigação compreende informar o tribunal ou a autoridade administrativa do lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso com impacto nos consumidores. O grau de detalhe das informações exigidas pode variar em função da medida solicitada pela entidade qualificada e da eventual aplicação de um mecanismo de participação (opt-in) ou de exclusão (opt-out)”.
Com efeito, e salvo melhor opinião, atenta a valia interpretativa dos considerandos dos instrumentos normativos da UE, a obrigação de informação acabada de aludir, ao compreender a menção do lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso, devidamente conjugada com o conjunto de princípios e critérios orientadores na aplicação que se extraem do próprio Regulamento Bruxelas I-bis (nomeadamente, a certeza jurídica e a previsibilidade na determinação do foro internacionalmente competente e o estabelecimento de uma conexão suficientemente forte com a jurisdição nacional) e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia que, ao longo das últimas seis décadas, interpretou as regras contidas nos instrumentos dedicados à definição da competência internacional dos tribunais judiciais em matéria civil e comercial, tornam, pelo menos, defensável a solução que arquitetamos e preconizamos no capítulo terceiro da obra.